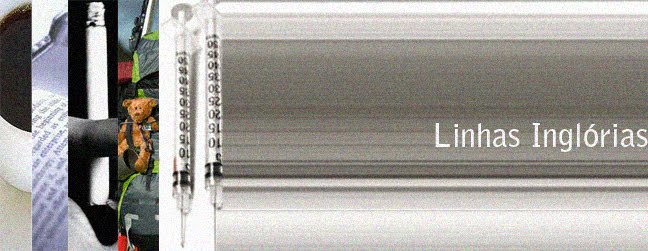Os nome dos personagens do texto anterior foram alterados para os nomes reais.
O final fictício foi retirado pra que coubesse continuação real.
- Agora dá pra falar o que tá fazendo aqui?
- É que essa é a única sacada da cidade em que eu posso vomitar e ouvir blues.
O Rodrigo só deu aquela velha risada rápida e analasada – eu, que já o conhecia, sabia que isso significava que eu podia ficar. Naquela época era minha única amizade completamente assexuada, o que sem dúvida representava um refúgio. Finalmente ele sentou comigo no chão molhado pela tempestade. A gente ficou fumando e tomando vinho barato enquanto víamos a água caindo rapidamente, tão apressada que era como se tivesse alguma obrigação maior do que fazer parte do nosso cenário.
Eu me empolgava mesmo com esse tal de Felipe Cazaux – proeza que o Rodrigo tinha me mostrado depois de ter “caçado” por aí – que tocava na nossa pseudo-vitrola. Ele sempre achava os melhores álbuns do Tom Waits, os melhores cantores de blues, os melhores shows da cidade e as melhores conversas com reticências. Era sempre o “pega, ouve” que mudava a minha vida por um momento.
Sem muita pressão, fui logo dizendo pro meu amigo o que me fazia fugir pra lá. Ele não entendia bem como eu podia ter recebido carta branca do meu pai pra largar a faculdade e viajar pelo mundo e, ainda assim, continuar naquela cidade, que desapontava Drummond por ser só grande, não ter absolutamente nada de pequeno. De repente a gente começou a ter um dos nossos devaneios antropológicos. Eu falava dos livros do Sartre sobre liberdade e emendava dizendo que não só não entendíamos esse conceito de liberdade como ainda ficávamos assustados com ele – talvez assustados por não entender. “Os seres humanos têm alguma espécie de interesse em reclamar da falta da liberdade, posto que tomando posse dela, estagnam”, dizia eu. Ele achava que eu estava só usando minha covardia como uma regra geral para o mundo e pautando tudo isso em um discurso literário. Talvez fosse mesmo.
Ele insistia pra que eu me metesse a fazer uns cursos relacionados à sétima arte e encarnasse uma espécie de Che Guevara viajando pela América do Sul com uma mochila nas costas. Era tudo o que eu queria, além de continuar tentando publicar alguma coisa sem precisar vender a minha alma pra isso – ainda me recusava a transar com os editores e roteiristas cinquentões. A indignação do Rodrigo era por eu ser como o Bukowski dizia: tinha a vontade e a necessidade de viver, mas me faltava a habilidade. Ele acreditava que minha falta de habilidade se baseava no fato de eu não conseguir me ver sem tv a cabo, colchão de molas e Wi-Fi. Eu só desejava que ele estivesse profundamente errado.
Nós tínhamos bebido muito e discursado por horas todas aquelas coisas que só nós entendíamos. Eu não sabia de onde ele tirava tanta resistência pra bebida, mas ele realmente não passou mal – diferente de mim. Dormi na casa dele, amassada em um sofá de dois lugares e acordando pontualmente de meia em meia hora pra passar mal.
No dia seguinte acabei acordando umas 11:30 horas com o Rodrigo fazendo barulho enquanto ouvia Led Zeppelin. Ele estava todo empolgado me chamava pra ir no tal Cemitério de Automóveis: “Você vai adorar o lugar! Dizem que tem um no Paraná e que botaram um pôster do Kerouac na parede de lá”. Eu ainda não raciocinava direito por causa da dor de cabeça horrível que tava sentindo, mas não perderia de ver um lugar com um possível pôster do Kerouac nunca.
Fui pra casa tentar escrever um pouco durante a tarde e poder me arrumar, colocar um daqueles vestidos dos anos 60 que eu usava. Lá pelas 20:00 horas meu amigo já estava na porta de casa com dois energéticos na mão e aqueles terríveis cigarros sem filtro que ele consumia com um certo orgulho. Aceitei os energéticos, e até os cigarros.
Sentamos em um lugar qualquer no Cemitério de Automóveis. O Rodrigo logo saiu de perto de mim ao notar que meu decote recebia olhares. Então só coube a mim começar a retribuir os olhares de um rapaz com um visual meio anos 70 – o fato de ele estar visualmente uma década à minha frente já indicava alguma coisa boa. Ele acabou me trazendo uma cerveja que eu não conhecia e sentando ao meu lado. Por mais discrepante que fosse, eu não me saía tão bem assim nesse tipo de situação – só cabia a mim intercalar as conversas com todas aquelas minhas usuais risadinhas tímidas.
O rapaz das costeletas, o Daniel, era artista plástico, tinha 30 anos e conseguiu roubar a minha timidez quando começou a falar de artes. Eu não entendia muita coisa de artes plásticas – até por ser um longo estudo no qual mais me interessava arte moderna mesmo –, mas eu adorava falar do cinema, da fotografia pra sétima arte e de tudo que eu queria ver na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Acabamos encontrando um ponto intermediário: Godard, em cuja obra cinema e pintura se entrelaçam.
O Rodrigo e eu tivemos que ir embora logo, afinal ele tinha conseguido deixar um daqueles caras fortes que usam jaqueta de couro com raiva quando tentou ser cordial com a namorada dele, uma garota excessivamente magra que tinha um penteado de Marilyn Monroe. Saímos rápido, mas consegui tempo o suficiente pra deixar ao menos um telefone com o Daniel.
Durante uma semana inteira o Daniel e eu conversamos sobre qualquer tipo de assunto. Eu estava completamente extasiada com a idéia de ele ser 11 anos mais velho e de ter sempre um discurso contagiante, persuasivo e empolgante. Era difícil não me sentir envolvida pelo conjunto de palavras que ele lançava. Dessa sintonia ideológica surgiu a melhor proposta que eu poderia receber naquele momento: ele queria que fôssemos uma espécie de Sartre e Beauvoir da pós-modernidade, que mantivéssemos uma espécie de relacionamento aberto em que imperaria o hedonismo e o companheirismo. Depois de alguma bebida, ele falava de modo animado sobre sexo, arte e a intersecção dos dois: “O melhor é gostar de arte, todas as artes; e de sexo – falar sobre tudo isso, fazer tudo isso. Não abrir mão da arte, nem do sexo – nem separar os dois”. Eu que tava achando tudo aquilo interessantíssimo, acabei aceitando a idéia.
Naquela noite tinha que ir ao apartamento do Jota encontrar os batatibhas, me entorpecer um pouco e contar toda essa história de relacionamento aberto pra eles. Por sorte cheguei antes de todo mundo começar a alcançar o pico e não conseguir mais entender nada do que eu dizia. O Luann e o Jota, que naquela altura já haviam se tornado meus grandes amigos ali, tentaram me dissuadir de tudo isso – todo mundo já sabia que eu me envolvia sentimentalmente de forma extremamente rápida, o que seria péssimo em uma relação onde não cabia nada parecido com isso. Não obstante todos os protestos dos meus amigos, na noite seguinte eu já estava tomando vinho e fumando no quarto do Daniel.
Acabei passando a madrugada inteira fazendo sexo e arte com meu Jean-Paul Sartre. Algumas coisas no sexo com ele evidenciavam o quão interessantes homens mais velhos podem ser na cama. Há tempos não me surpreendia sexualmente de um modo tão incrível. O jeito como ele me dominava e sabia encontrar os pontos exatos pra me fazer enlouquecer, logo em uma primeira vez, só podiam ser fruto da experiência que os anos trazem. Ele conseguia ser afetuoso depois do sexo, coisa que homens mais novos sempre esqueciam de fazer.
Cheguei em casa quase no fim da tarde seguinte. Guardava no corpo as tão atraentes marcas de um sexo bem feito. Chamei os batatibhas e o Rodrigo em casa pra dividir as minhas aventuras da noite anterior. O Jota emitia onomatopéias curtas e entrava em um silêncio profundo, que era a sua forma de demonstrar preocupação. O Luann, por outro lado, era mais direito e passional: demonstrava sua exacerbação por meio de discursos inflamados. O Rodrigo era o único que tinha algum omitismo com aquela história toda: ele discursava sobre o quão bom era eu estar vivendo algo real de novo, algo que poderia me fazer superar o Gabbe.
O Daniel e eu ainda tivemos alguns momentos de “fazer samba e amor até mais tarde”, mas toda aquela história acabou logo – pra minha sorte, antes de eu me envolver sentimentalmente. Acabou quando o Daniel soube que queria mesmo levar um relacionamento fechado, nos moldes desses impostos pela sociedade, e tinha encontrado alguém com predisposição pra isso, alguém que certamente alterava o ritmo do seu coração – coisa que eu nunca poderia fazer, afinal naquela altura ele já sabia de mim o suficiente pra nunca se apaixonar.